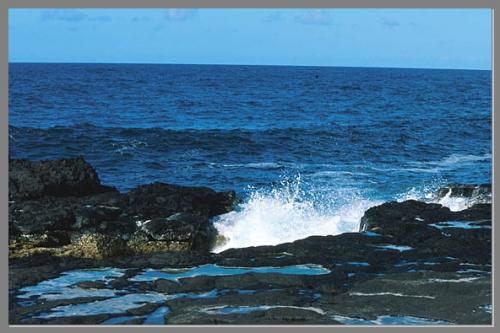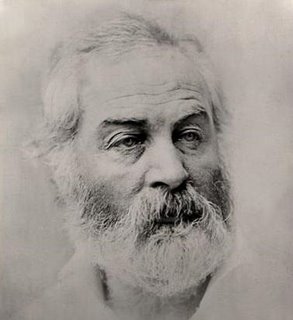Micarême – o baile

Ora, sabendo que o pandeiro salta de mão em mão, “tenham, V. Senhorias, um óptimo Micarême”, desejou o benigno prior, ao que a bela galega apenas apensou, “um mero serão dançante, quer o senhor prior dizer, com o beneplácito do guarda pretoriano, São Sebastião” – pois, pois…
E porque havia a bela galega de confessar ao prior uma falta que, em consciência, não iria cometer – mas que coisa…
Pois claro, não fazia o mínimo sentido. Deus era grande, “muito grande”, matutou ela, e – maior do que aquelas marronas bisbilhoteiras, saracoteando à volta do cura para que lhe caíssem em graça –, só Ele.
E em meia tarde de sábado, um dia resplandecente de sol de Inverno, um movimento desusado de seges, cruzando-se no largo da Matriz, com suas prezadas madames refasteladas, dava um ar mundano á cidade.
Passeara ela pelo agradável Aterro, dirigindo-se agora o casal, ao Suíço, “dois cafés”, pediu o marido, com os olhos postos numas estimadas beldades, que mesmo agora se haviam sentado, ali defronte, num banco da atractiva Varanda de Pilatos, dando um arejo de vistas no mar, “aqui os tem, senhor visconde”, aprestou-se o diligente empregado do mais cosmopolita café da baixa.
Do lado oposto, chegava o velho prior, encurvado, trajando uma batina de preto retinto, “com que então, fazendo horas para o baile, senhora Dona Dolores…”, observou o bondoso pároco, “é verdade, senhor prior, e a meio da Quaresma, mas o vestido é sóbrio…”, logo o prior abonou, “ainda bem, não imaginava outra coisa…”, e mais o reparo dela, “e, se bem me parece, a sua batina é nova…”, riram-se de vontade com a oportuna réplica.
Talvez que o bom homem com o aparte de “com que então, fazendo horas para o baile”, apenas quisesse observar um modo de dizer: que Deus estava tanto no alto dos céus, como depressa se precipitava, irrompendo de um mar de nuvens brancas e se punha aprumado no altar, e, não constando ser sócio do grémio, se trajava a rigor, envergava o seu fulgente smoking e, “cá estou eu no seu mui distinto Clube Micaelense, senhor Conselheiro!”.
Seria Pessoa para isso? – Apenas, coisas da Sua condição terrena.
Pelo sim, pelo não, a linda galega, bem desempoeirada para a época, “abanou-me a passarinha que o senhor padre-cura dissera umas inglesices…”, que era um desaforo haver um baile numa altura de profunda reflexão cristã, “quer-me parecer que são vozes mexeriqueiras”, interveio ela, despeitada com as ratas de sacristia.
O prior ajuizou o que de mais sensato teria para abonar, porventura algum impropério do desmiolado sacristão, até, quem sabe, um deslize do seu cura assistente – vá-se lá saber – puxou da caixinha de prata, tirou uma pitada de rapé, oferecendo-lhe, “aceita?”, ela agradeceu uma pitadinha, “se eu dissesse que o refinado Clube de V. Senhorias era um antro de gente sem moral, diriam, o prior é um impostor!”, assustou-se o visconde com o brado, e mais cordato prosseguiu, “e di-lo-iam com toda a razão, minha boa senhora Dona Dolores del Rio…”, e ela logo aditou, “e Velásquez…” – pois, pois…
Voltou o prior, paciente, “pois é… a vida tem dessas ratoeiras, armam-nas para apanhar o intruso, quer no distinto grémio de V. Senhorias, quer no belo lavatório de pedra trabalhada da sacristia da nossa vetusta igreja Matriz…”,
E a atilada Dona Dolores del Rio e Velásquez, levantando-se, “já se vão fazendo as tais horas…”,
Ora, sabendo que o pandeiro salta de mão em mão, “tenham, V. Senhorias, um óptimo Micarême”, desejou o benigno prior, ao que a bela galega apenas apensou, “um mero serão dançante, quer o senhor prior dizer, com o beneplácito do guarda pretoriano, São Sebastião” – pois, pois…
2012-02-08
Bento Sampaio