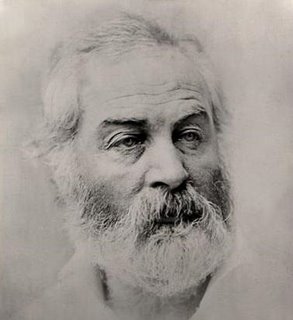SÃO SORTES...
 Há hábitos que nunca mais se perdem, são companheiros nossos que muito estimamos, e, satisfeitos, acarretamos, pela vida fora, toda a sua carga emotiva, como se fossem pedaços de nós; e eu pergunto, meus amigos, se não são mesmo pertença nossa? Julgo que sim.
Há hábitos que nunca mais se perdem, são companheiros nossos que muito estimamos, e, satisfeitos, acarretamos, pela vida fora, toda a sua carga emotiva, como se fossem pedaços de nós; e eu pergunto, meus amigos, se não são mesmo pertença nossa? Julgo que sim.Será por isso esta afeição muito especial que tenho a tudo o que me vem parar às mãos: seja um panfleto, que me cai na caixa do correio, que leio e releio, antes de o deitar fora; seja a despesa de um pertence para a casa, que fica uns tempos na gaveta; seja, enfim, um parafuso, uma porca, meia dúzia de pregos, que restaram de um conserto, que podem dar jeito para outra ocasião. Olhem, tudo guardo, para, de tempos a tempos, numa limpeza geral, ir quase toda a mixórdia para o rol do esquecimento e, só depois, merecer aquele destino fatal – o lixo, e, mesmo assim, com pena.
Com isto, não estou a aliciar ninguém para fazer parte desta maluqueira de guardar toda a sorte de ninharias; apenas são desabafos meus, que gosto de partilhar com os amigos.
Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, como a Gabriela, do Jorge Amado – está escrito...
E, reparem, quem sai aos seus, fica-lhe muito bem conservar a sua memória – acima a tradição, como cantava o Anthony Quin em Zorba, o Grego, lembram-se?
Como podia eu não sair à minha mãe, que me guardou os canudos louros na tal caixa de sabonetes “Violeta”, de que, há tempos, vos falei? Sabe mesmo bem quando seguimos as pisadas dos nossos, sentimo-nos mais perto deles.
Diria que não há maior gosto na vida do que sermos igualzinhos a nós próprios, com aquela marca indelével do sangue, e nunca aparentar meros decalques de uma qualquer figura de proa. É tão bom não termos de nos submeter a regras que não se ajustam ao nosso jeito de ser.
Deixemos correr o marfim, com aquela cor de alabastro antigo, que lhe fica tão bem. As pequenas coisas, tal como elas são, assim simples, maneirinhas, têm aquela candura de um primeiro amor, um quê muito característico, que se agarra a nós só por uma questão de bem-querer.
Portanto, estamos entendidos, cada um faça como quiser, desde que se veja sempre ao espelho e guarde o melhor que tenha, para, um belo dia, deixar-se seduzir por um qualquer papel velho, ou, de outro modo, poder fruir o ensejo de uma surpresa, e, se boa, tanto melhor.
Contas feitas e acertadas, vamos, então, ao que trago hoje na manga.
Pois, estava eu no bem-bom da Madeira, já lá vão quase trinta anos, tentando a minha sorte nas máquinas de moedas do Casino, quando uma carrada delas – um jakpot – caiu só para mim. Feliz, e com a prudência dando ordem de parar, fui trocar o talão por notas do banco, que o empregado mas entregou dentro de um envelope, e que eu guardei no casaco.
Era o último dia daquela semana de férias no hotel Girassol. Casaco para dentro da mala, mala para dentro do taxi e a Madeira a perder-se, rapidamente, das nossas vistas, com o avião a desembaraçar-se das nuvens, e logo o sol a raiar bem no pino do meio dia.
Chegados a casa, todas as atenções foram para o nosso menino de colo, mimos para a família, e roupa para o guarda-fatos. Estava feita a festa, férias acabadas, o trabalho à nossa espera e o casaco esperando a sua sorte do Verão seguinte. Tal e qual.
Os Santos e o Natal, a Páscoa e o Senhor Santo Cristo eram festas de outros agasalhos, que não aquele casaco leve, desforrado.
Um ano depois, o casaco bege foi despertado da longa soneca, e – imaginem o meu espanto –, quando dei pelo tal envelope com o timbre do Casino da Madeira, “é o dinheiro do jakpot!”, gritei, e fomos comemorar em grande.
Foi como se, num repente, tivesse tornado atrás um ano, voltasse a escorregar nos carrinhos do Monte e, para pasmo dos presentes, aterrasse bem no meio do Casino, para reviver o som das alegres campainhas, anunciando o “jakpot”.
São sortes... lá isso são...