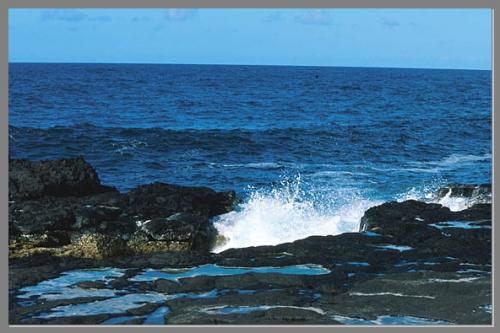O balancé do chair-a-banc
 Entrado no calhambeque do tempo, com a brisa fresca de um norte seco destes dias, e tendo esse bom caminheiro de calçada, o sol todo de fora, por companhia, dei comigo perdido em lembranças, já que, vendo muito pouco – essa saborosa vantagem de ter amigos que se plantam à minha frente, e me dizem, “oh Sampaio, sou eu” –, toda a atenção ia direitinha para o que mais gosto – o devaneio.
Entrado no calhambeque do tempo, com a brisa fresca de um norte seco destes dias, e tendo esse bom caminheiro de calçada, o sol todo de fora, por companhia, dei comigo perdido em lembranças, já que, vendo muito pouco – essa saborosa vantagem de ter amigos que se plantam à minha frente, e me dizem, “oh Sampaio, sou eu” –, toda a atenção ia direitinha para o que mais gosto – o devaneio.E, então, no dobrar de uma esquina desse tempo de bonança, estava aquele ar de frescura de uma manhã de domingo, naquele balancé de chair-a-banc do nosso primo Antonino, que Deus o tenha, a caminho de Vila Franca, em dia de procissão do Senhor da Pedra.
Lavado a preceito numa grande banheira de madeira, na noite de sábado, aliás um dia de lavações gerais lá em casa, e calçado e vestido a rigor, ia contente para a festa, com a promessa de ter uns “fresquinhos” de serrilha para o arraial.
Pode parecer, nos dias que correm, uma sensaboria gratuita, mas, nascido eu numa freguesia, longe daquilo a que, na altura, se chamava de conforto dos tempos – água canalizada e luz eléctrica –, andar de chair-a-banc era muito melhor do que ver as pessoas, a pé, a ficarem para trás.
O nosso primo não dava descanso ao macho, que, nos outeiros, subia mais devagar, para retomar, nas chãs, o trote cadenciado, que outra coisa não tinha a cavalgadura que não fosse o caminho pela frente, “eu sei o que ele quer...”, gracejou, e achegou-lhe, ao pêlo, três retinentes chicotadas.
“Vamos, ainda, muito a tempo”, disse meu pai, dando a entender que a alimária não merecia aquele castigo, “não, primo, ainda tenho mais um frete para a procissão”, respondia ele já a chegar à Vila.
Foi então que as ferraduras do macho começaram a matraquear, a compasso, na calçada, e o chair-a-banc, pintado de verde e com vivos vermelhos, fazia-se vistoso, entre os da sua classe, correndo na rua direita, com o nosso primo Antonino, de sorriso rasgado, aos comandos da besta.
E eu cavalgava a minha fantasia de ser um forasteiro com privilégios de poder ouvir as bandas, “é a nossa, as duas da Vila e a de Água de Pau”, acrescentou meu pai, que havia lido na “Crença”. A nossa, a “Lira do Sul”, garbosa, ombreava com as outras, no cortejo, coisa que me encheu de orgulho.
Era, de facto, um acontecimento maior para um rapazinho de dez anos, com a quarta classe feita, deliciado com as férias grandes, aquelas que sabiam mesmo a descanso.
Agora, estava à vista o meu primeiro ano no Liceu e mais um mês e tal para ver as canas a espigar e, sem remédio que me valesse, as férias a acabar.
O Liceu viria a ser o melhor tempo da minha mocidade. Aquele casarão, que eu avistara, só por fora, fascinava-me de tal forma, que eu não pensava noutra coisa, queria senti-lo por dentro.
Hoje, carrego as memórias de um ou outro “medíocre”, de muitos “suficientes”, alguns “muito-bons” e um “óptimo”, e, muito principalmente, a excelência de grandes amizades.
Olhando pelo retrovisor do tempo, e empoleirado nesse famoso calhambeque de lembranças gratas, não sei se é assim tão melhor o tal conforto dos tempos – água canalizada e luz eléctrica.
Agora, como se tudo pudesse voltar ao mesmo, o que mais gostaria era mesmo o balancé de um chair-a-banc, lá isso era, a caminho da Ponta Garça.